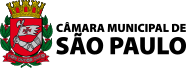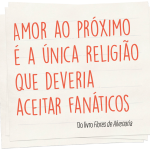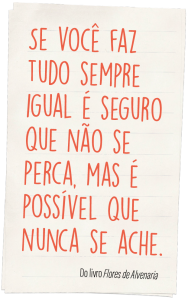Sérgio Vaz
Um dia, Sérgio Vaz descobriu as metáforas. Virou poeta. E decidiu levar a literatura para todas as pessoas
Fausto Salvadori | fausto@saopaulo.sp.leg.br
Colaborou Renata Oliveira | renataoliveira-cci3est@saopaulo.sp.leg.br

Quem vê do lado de fora as casas simples do Jardim Clementino, em Taboão da Serra (Grande São Paulo), não imagina que, ao entrar em uma delas, vai encontrar no quintal uma estátua de 2 metros em metal de Dom Quixote e os versos “Meu coração é cheio de pássaros. Por isso nunca me dei bem com gaiolas” e “Milagres acontecem quando a gente vai à luta” decorando as paredes em estêncil e cartazes.
A presença da poesia e do cavaleiro espanhol, padroeiro dos sonhadores, soa menos deslocada para quem sabe que naquela casa mora o poeta e agitador cultural Sérgio Vaz, 52 anos. Cansado de sofrer com a solidão de ser um dos únicos leitores de seu bairro, Vaz tratou de espalhar a literatura entre os moradores da periferia ao criar o Sarau da Cooperifa, um dos primeiros marcos do movimento de saraus literários periféricos que se espalhou pelo País.
Autor de oito livros, Vaz recebeu diversos prêmios por sua luta quixotesca pela literatura, entre eles o Trip Transformadores, o Governador do Estado, o Amigo do Livro e o Título de Cidadão Paulistano da Câmara Municipal de São Paulo (CMSP), concedido pelo então vereador Nabil Bonduki, em 2015. Sua trajetória virou enredo da escola Imperatriz do Samba (de Taboão da Serra) em 2012, com o nome “Sérgio Vaz, Poeta da Periferia”.
Você já escreveu que “ser artista no Brasil não é privilégio, é castigo”. Como arrumou esse castigo para sua vida?
Imagina um cara querendo ser artista no final dos anos 70 na periferia de São Paulo, onde as ruas não tinham nem asfalto, no Jardim Guarujá, divisa com o Parque Santo Antônio, que em 1996 foi eleito pela ONU um dos lugares mais violentos do mundo. Eu não conseguia entender qual era a minha. Era interessado por literatura, mas ainda não tinha o sonho. Isso é um castigo. Sua família fala “você tem que trabalhar”. Porque, naquela época, se ganhasse R$ 10 mil fazendo poesia e R$ 1 mil com carteira registrada, a família preferia a carteira. Até porque era o documento que você tinha que levar, senão era preso por vadiagem.
E como a literatura apareceu na sua vida?
Quando nós viemos de Ladainha, onde nasci, em Minas Gerais, meu pai trouxe o hábito da leitura. Na minha casa, mesmo simples, nunca faltou comida nem livros. Quando meu pai se separou da minha mãe, eu fiquei mais tímido ainda, introvertido, e comecei a me interessar por literatura porque via meu pai lendo. E era muito louco porque eu era um dos poucos da minha turma que gostava de ler. Era tipo o “amigo gangorra”, quando eu sentava todo mundo levantava: “lá vem aquele cara falar de Jorge Amado…”. A minha sorte é que eu jogava futebol, então era mais tolerado. Às vezes eu ficava pensando: qual é a minha? Quando li Dom Quixote, eu me entendi: não sou um esquisito, sou um sonhador.
O que é ser um sonhador?
Sonhador é aquele cara que insiste no velho, em querer que as pessoas ainda se amem, que não tenha racismo, homofobia, que não tenha pobreza. Isso é um sonhador. A gente sabe que não dá para acontecer, mas continua lutando. E eu entrei na poesia por causa da música. Até então, eu tinha vergonha de escrever poesia. As pessoas achavam que era coisa de gente fresca. Servi o Exército em 1983 e ainda não entendia direito o que era metáfora. Um dia, eu era cozinheiro, coloquei uma fita da Simone cantando Geraldo Vandré, Para não dizer que não falei das flores. Dentro do quartel, em plena ditadura militar, eu estava lá cantando a plenos pulmões enquanto mexia a panela: “vem, vamos embora que esperar não é saber”. O sargento veio louco gritando “isso é música de comunista!” e eu fui gostando. Quanto mais ele falava, eu pensava: “nossa, tudo isso nessa música?”. Foi aí que descobri as metáforas. Aconteceu um despertar para a poesia e não parei mais de ler. Comecei a ler Neruda com Canto geral e pensei: “pô, não é coisa de fresco, não, isso é coisa de revolucionário!”. Só que a poesia que gostava de fazer era aquela que eu gostava de ler: panfletária. Até hoje sou panfletário. Aí você começa a ler João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, Carolina de Jesus, e pira.
Como foi o processo do sonhador que, em vez de sonhar sozinho, juntou pessoas para sonharem juntas uma mudança da realidade?
Na verdade, foi por egoísmo. Eu não tinha ninguém para conversar sobre livros. A solidão dos livros é foda. Quando fui para o Bixiga [na região central de São Paulo] pela primeira vez, no meio dos anos 80, descobri que era pobre. Eu achava que não era pobre porque todo mundo tinha a mesma miséria em comum. Eu não conhecia outro bairro, então achava que o mundo inteiro era daquele jeito: sem asfalto, com crimes. Mas quando fui no Bixiga, num café vi a Rita Lee sentada, Cacá Rosset estava com uma peça, tinha o Luiz Melodia, cineclubes, essas coisas. Com o tempo, pensei: “mano, estou me parecendo com eles, mas não sou eles”. Aí foi que me bateu um negócio e eu falei: “a gente tem que fazer na nossa quebrada, nem que seja por inveja, mas vamos ter que fazer o que eles fazem”. Logo em seguida veio o rap, uma grande referência. Foi a primeira vez que alguém no rádio falou do meu bairro, além do Gil Gomes. Em 2000, estava lendo sobre a Semana de Arte Moderna de 22 e tive o insight de pedir emprestada uma fábrica abandonada em Taboão da Serra. Juntei umas pessoas, arrumei um som e aí apareceu gente. O nome era Cooperifa, mas não tinha esse intuito de hoje. O Ferréz lançou Capão pecado lá, fizemos exposição de fotografias, de quadro, o Kobra grafitou uma parede para nós. Só que aí o cara da fábrica se ligou, “vão tomar isso de mim”, porque estava ficando muito forte, aí boicotou o projeto. Fiquei mal para caramba, mas a gente fica mal dois dias. No terceiro já está dando soco na cara dos outros, porque de apanhar já estava à pampa. Estava bebendo com o Marco Pezão, ele me falou: “conheço um bar aí e o dono é de teatro”. Fomos lá e surgiu o sarau Cooperifa. Cada um fazia umas vinte poesias, tinha umas quinze pessoas, uma coisa meio rústica, mas foi se espalhando: “tem um lugar aí em que o microfone é aberto, os caras são loucos, pode falar o que quiser, chega lá, faz a poesia e está tudo certo, é só dar o nome”. Encheu de gente, como se estivesse indo da senzala para um grande quilombo. Depois de quase dois anos, o cara vendeu o bar e nem avisou para a gente. Aí fomos para o Zé Batidão, um bar que tinha sido do meu pai, fui criado ali. Aí o bagulho endoidou e virou essa zona que é hoje.

O que é o movimento dos saraus de periferia?
É a dessacralização da literatura. É quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. Qualquer um pode escrever. Você só tem que encontrar alguém que goste do que você escreva. Não pode mais ser a arte do privilégio. A gente também pode escrever, pode ler. Os saraus se espalharam e eu tenho viajado o Brasil inteiro, também fui para Alemanha, Inglaterra e México falar disso. As pessoas se apropriaram da literatura.
Você vive de escrever?
Estou vivendo de escrever há uns dez anos. Esta casa eu tenho há cinco anos, [comprada] com a literatura, mas antes eu não tinha. Para você ver: um cara de 50 anos não ter uma casa própria. Eu não vivi de poesia, vivi para a poesia. Esse é meu trampo e tenho que viver dele. Agora mesmo, uma professora me convidou para um evento e queria que eu fizesse uma “fala de motivação” para os professores, mas não pagava ajuda de custo. Eu respondi: “então, não posso ir porque não estou motivado”. É o meu trabalho. Ainda que não seja bom ou importante, é o que eu tenho.
Como você ajuda a convencer os outros a ler?
Não sei se eu ajudo. Vou lá dizer do que eu gosto e talvez eu diga com tanta ênfase que as pessoas começam a ler. Recebo cartas de alunos e jovens dizendo que começaram a ler livros que eu indiquei. Quando fiz palestra na Febem [atual Fundação Casa], usei Racionais para falar de poesia e os meninos descobriram que gostavam. Então é isso: usar elementos da literatura que se pareçam com as pessoas. Fui numa escola um dia e um menino me falou para eu dar um bom motivo para ler. Eu disse: “quem lê xaveca melhor”. Você tem que mostrar que a literatura é legal como o funk, o sertanejo, o samba. Aí a molecada vai ter outra visão.
Por que os saraus surgiram nos bares, e não em bibliotecas ou escolas?
O bar é o único espaço público que temos na periferia. Bar e igreja. Igreja não gosta de sarau, então sobraram os bares. O boteco é o lugar em que as pessoas se reúnem depois de adorar um deus chamado trabalho. É a nossa ágora, sempre foi. Por que olhar com desprezo uma coisa que é nossa? Hoje o bar do Zé tem uma biblioteca e em cima é um cinema. Foi isso que deram para gente? Pois é nisso que vamos transformar. As novas tecnologias afastam os mais jovens da literatura? Acho que nunca se escreveu tanto. A minha filha, quando manda para a amiga dela [pelo celular] que ontem foi ao samba e conta quem estava lá, que música tocou, é uma crônica que ela está escrevendo. Uma não briga com a outra, muito pelo contrário. O meu trabalho flui por causa da internet. Hoje eu tenho 286 mil pessoas na minha página. Eu coloco uma coisa lá e tem 5 mil curtidas. São pessoas que jamais leriam a minha poesia se tivessem que ir a uma livraria. A tiragem dos meus livros é de 3 mil, então democratizou. Acho que falta, para quem cuida de literatura, ter essa sacada. Se você pega a [lista de livros da] Fuvest [vestibular para a Universidade de São Paulo], são sempre os mesmos caras. Valorosos e importantes, mas sempre os mesmos. Lembro que fui numa escola há muitos anos e um menino perguntou: “como ele pode ser poeta se está vivo?”.
Morando na periferia, onde falta tudo, como perceber que a arte também é importante?
A arte serve para não enlouquecer, irmão, porque esse mundo aqui é só para quem é louco. A arte tira a gente do plano. Quando o cara ouve uma música, tira do real e o importante é isso, tirar do real. O real é doído, cara. Viver dói. Dói para o pobre, dói menos para o rico, mas dói também. A gente precisa de um monte de drogas lícitas e não lícitas para viver. A literatura é uma delas.