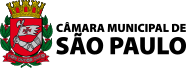Christian Dunker
Psicanalista analisa como a vida em condomínio transforma nosso jeito de olhar a cidade
Fausto Salvadori | fausto@saopaulo.sp.leg.br

Foto: Fábio Lazzari/CMSP
“Portal do Morumbi. Aqui todo dia é domingo” ou “Vila das Mercês. O direito de não ser incomodado”. Com esses slogans, os condomínios surgiram em São Paulo a partir dos anos 70, espalhando sua promessa de uma forma de vida cercada por todo tipo de muros – tanto os concretos, de tijolos, como os simbólicos, das raças e classes sociais.
A lógica dos condomínios, baseada na criação de barreiras para excluir as diferenças, é o ponto de partida do livro Mal-estar, sofrimento e sintoma: uma psicopatologia do Brasil entre muros (Boitempo), lançado neste ano pelo psicanalista Christian Ingo Lenz Dunker, 49 anos, fundador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da Universidade de São Paulo (USP). Buscando analisar o Brasil como um paciente no divã, Dunker identifica na mentalidade dos condomínios um dos principais sintomas do mal-estar vivido por esse paciente. Na entrevista, o psicanalista analisa como a lógica da vida entre muros espalhou-se pelas cidades e sugere outros símbolos para a gente pensar a relação com os outros, trocando a rigidez agressiva dos muros pela fluidez do litoral.
A conversa com Dunker abre uma nova seção da Apartes, que passa a entrevistar personalidades que têm algo a dizer sobre os problemas e as possibilidades da vida na cidade.

Foto: Fábio Lazzari/CMSP
Como surge a “lógica dos condomínios” descrita em seu livro?
Nos anos 70, há uma atitude do Estado de se demitir da mediação entre o espaço público e o privado. Há toda uma indústria de entrega para grupos particulares daquilo que seria um bem simbólico para todos. Isso se cristaliza na disseminação dos condomínios, a partir de 1973, que é um acontecimento muito brasileiro.
Por quê? O que diferencia o condomínio brasileiro de outros?
O condomínio americano e inglês e as vilas italianas tentam resgatar a ideia de comunidade, com a noção de diferenças individuais. Os nossos condomínios nasceram como uma tentativa de solucionar o problema dos empregados domésticos: contratar seguranças e babás, todos uniformizados e cada um no seu lugar. O espírito da coisa era segregacionista. Uma comunidade que não é uma comunidade, porque o acesso é por renda. É então que começam a se formar nos condomínios um conjunto de patologias: tédio, esvaziamento, disputas narcísicas (quem é que tem a caminhonete mais larga?). Isso deu molde para uma mentalidade que enlaça o condomínio real com a prisão (o Brasil é o país com a quarta maior população carcerária do mundo), com a favela, que é outro tipo de dispositivo de segregação, e com o shopping center – aliás, os mesmos empreendedores e incorporadores dos shoppings fizeram os condomínios. A lógica de condomínio é um sintoma brasileiro.
Qual é o efeito dessa lógica dos condomínios na vida das cidades?
Tem uma consequência para o entendimento do que é relação entre público e privado. Num país em que a gente molda um laço social à base do condomínio, ou seja, muro para excluir a diferença e síndico para gerir interesses, uma das consequências é o excesso de confiança na lei. A gente acha que a única forma de tratar problemas e diferenças sociais é mais leis, leis mais duras ou leis melhores. “Chama o síndico!”, como diz o Jorge Ben Jor.
O próprio poder público passa a ser visto como um síndico?
Exatamente. Os nossos políticos, durante muito tempo, entraram nessa retórica de ser um síndico. É um tipo de política barata, em que o político se demite de sua função mais fundamental, de problematizar, pensar e planejar o que seria o espaço público.
Outra discussão forte é a das ruas fechadas.
Tem a rua fechada que é a vila, onde há uma população de idosos, que troca favores e usa o centro da vila como lugar de encontro. Isso é uma coisa. Muito diferente de jovens casais de classe média que querem ter os benefícios da rua sem conviver com ela. Agora perceberam o inferno dos condomínios, dos edifícios planejados. No fundo, você tem o mesmo espaço físico, mas num caso tem a lógica de condomínio, e no outro não.
Como imaginar uma mentalidade diferente dessa dos condomínios?
A gente pode imaginar que existem outras maneiras de criar limites. O litoral. Pensa numa maré. Uma hora está alta, outra hora está baixa. A praia cria uma limitação, o mar de um lado e terra do outro, mas ela não faz uma fronteira no sentido de uma linha, onde não tem sequer um centímetro nem para lá, nem para cá. Cria uma espécie de imagem que a gente absorve e leva para a noção de diálogo, de que às vezes você invade o meu espaço, mas eu invado o seu também e a gente junto vai criando. A gente tem que falar, negociar, conversar para chegar nesse ponto de laço com o outro. O que o muro faz é suspender isso.
Essa lógica do muro aparece no debate sobre mobilidade. É como se carros e bicicletas devessem estar em conflito.
Eles estão em conflito. Foram tantos anos de política de condomínio, que agora a gente se vê numa situação de refazer essa conversa em outras bases. Em vez do medo e da inveja, aparece o ódio, o ressentimento social.

Foto: Fábio Lazzari/CMSP
Como o poder público poderia trabalhar com a lógica do litoral, em vez de lidar com a lógica do muro e do síndico?
Vou dar um exemplo meio caricato e específico. Nossa polícia precisa aprender a falar. Bater menos e falar mais. Perguntar antes. Conversar. É a noção de que, entre o crime e a adequação, tem um litoral. Tem uma história, uma contingência que você precisa recuperar. A justiça reparadora é uma experiência muito interessante. Em vez de prender ou fazer pagar, você conversa com o outro. A gente prefere a solução institucional. Chama meu advogado e ele resolve isso para mim, eu não tenho que me comprometer.
Eu não tenho que olhar o outro.
Não tenho. Isso é muro, é fronteira. No litoral, tem que falar com o outro, falar em primeira pessoa. Tem que resolver num contexto em que a gente assume que o conflito existe. A gente não tem os mesmos interesses: um quer uma coisa, outro quer outra. Mas nós temos o consenso de que existe uma lei geral de que esse conflito se trata pela palavra, tendo em vista um bem comum.
O muro barra a visão. Você não consegue enxergar o que está além.
Daí o muro cria uma série de coisas. Como eu não te enxergo, eu não sei se você é um dragão de três cabeças ou um cara barbudo com uma cara mais ou menos simpática. Fatalmente, ali onde não vejo, crio fantasias, e vão ser do pior, porque eu criei o muro para me proteger de você. O muro cria o problema que ele pretendia evitar: um sentimento de insegurança permanente. Cada vez que entra num elevador que tem um código especial de acesso, você se lembra de que alguém pode passar ali e fazer um assalto. Está sendo permanentemente lembrado, pelos dispositivos de proteção, de que a vida é perigosa. E ela é mesmo. Mas a gente precisa lembrar e agir em função disso o tempo todo? Acho que não.
Comente sobre essa matéria: |
Envie críticas ou sugestões:Email: apartes@saopaulo.sp.leg.br |