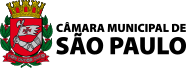Raquel Rolnik
Para urbanista, cidades viraram palco de uma guerra entre o direito à moradia e os espaços urbanos tratados como mercadoria
Fausto Salvadori | fausto@saopaulo.sp.leg.br
Colaborou Matheus Briet

Foto: Ricardo Rocha/CMSP
A ação dos estudantes que tomaram conta das escolas públicas paulistas no final de 2015 tem muito em comum com vários outros movimentos mundo afora, dos ativistas anticapitalistas do Occupy Wall Street (que fincaram pé em Wall Street, Nova York, em 2011) aos manifestantes turcos que tomaram a Praça Taksim, em Istambul, contra a construção de um shopping center. São movimentos de pessoas que se cansaram de ver o governo e o mercado tomarem todas as decisões sobre suas vidas e resolveram buscar novas formas de gestão da vida coletiva, ocupando locais que funcionam como laboratórios de “experimentação de futuros possíveis”. Essa é a Guerra dos lugares, que dá nome ao livro que a arquiteta e urbanista Raquel Rolnik lançou em dezembro de 2015 pela editora Boitempo.
Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), Raquel foi diretora de Planejamento da cidade de São Paulo e secretária nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades. Entre 2008 e 2014, atuou como relatora especial para o Direito à Moradia Adequada do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e viu de perto como a transformação da moradia em mercadoria fez milhares de famílias perderem suas casas, em países tão diferentes como os Estados Unidos ou o Cazaquistão. Para ela, os novos movimentos de ocupação de espaços públicos são uma reação às políticas urbanas que, em todo mundo, esqueceram seu papel social e transformaram a terra urbana em fonte de ganho financeiro.

Foto: Ricardo Rocha/CMSP
Como relatora da ONU, você teve contato com pobres que perderam suas casas em várias partes do mundo. O que provoca essa crise global de moradia?
Meu mandato se iniciou em 2008, quando estourou a crise hipotecária financeira nos Estados Unidos. A origem está nas hipotecas residenciais assumidas por populações de baixa renda, historicamente excluídas do mercado. Eu viajei para lá numa das minhas primeiras missões, para entender a origem daquilo. A questão que me chamou atenção eram milhares de pessoas ficando sem casa, morando em carros velhos ou até em tendas. Depois, vi muitos elementos semelhantes no Cazaquistão, na Indonésia, no Chile, no Brasil. Percebi que em vários países existe uma mudança de paradigma da moradia, que deixa de ser uma política social para se transformar em mercadoria e, posteriormente, em ativo financeiro.
Por que essa mudança de modelo faz as pessoas perderem suas casas?
No bojo de reformas neoliberais que ocorreram nas políticas sociais, como a da educação e a da saúde, a da habitação foi uma das primeiras e mais radicais. Nos anos 70 e início dos 80, tem uma espécie de migração da dívida dos Estados para as famílias. Foi um mecanismo de utilização da residência como garantia para alavancar maior consumo. É a financeirização da moradia. O mercado financeiro tem uma natureza de risco e especulativa, numa hora a bolsa sobe, noutra cai. Só tem um detalhe: quando cai, as famílias perdem suas casas. É você expor o indivíduo às vulnerabilidades e aos riscos inerentes à lógica do mercado.
Expor o que é mais essencial para uma pessoa, a sua casa.
A casa é uma porta de entrada para os outros direitos humanos. É a partir dela que se realiza o acesso à educação, à saúde, à cultura. Por isso, quando a coisa estoura, vai aumentar em muito a vulnerabilidade das famílias.
Qual o papel do Estado nesse processo?
Vários países implantaram políticas massivas de moradia via mercado, subsidiada pelo Estado. O Estado é mobilizado para comprar um produto no mercado, normalmente de péssima qualidade, porque, no momento em que o Estado estabelece o valor máximo daquele produto para poder subsidiá-lo, o mercado, para ter lucro, vai minimizar ao máximo o seu custo. A grande baixada de custo ocorre ao escolher uma localização para o produto, onde não tem infraestrutura. Com o Minha Casa, Minha Vida, o efeito dessa política foi a produção massiva de conjuntos habitacionais onde não tem cidade, não tem equipamento, não tem emprego. Ao mesmo tempo, o excedente global financeiro, que hoje domina o capitalismo, vai se expandir sobre áreas vazias ou subutilizadas, em antigas áreas portuárias ou industriais abandonadas, e nos assentamentos informais bem localizados – nos países onde a informalidade e a autoconstrução sempre foram a política (ou a falta dela) predominante de moradia.
Grandes eventos esportivos e desastres naturais também são pretextos para expulsar comunidades?
Um megaevento é perfeito para uma remoção. A gente pode observar muito claramente na preparação da Olimpíada no Rio de Janeiro e com a Copa do Mundo em algumas cidades. Um desastre natural também é perfeito. Eu pude observar os processos de reconstrução pós-tsunami nas Ilhas Maldivas e na Indonésia. Praias de alto interesse turístico historicamente ocupadas por pescadores, depois que foram inundadas viraram “área de risco” e ninguém podia mais morar ali. Tiraram todo mundo e, no lugar, colocaram um belo resort de luxo. Das cidades brasileiras, o Rio é onde o processo de tomada de um lugar foi mais radical. As UPPs (Unidades de Polícia Pacificadoras) têm uma geografia muito precisa: são uma ocupação militar em torno da área de expansão do mercado imobiliário do Rio, que é a Barra da Tijuca, a grande sede da operação olímpica.
No seu livro A cidade e a lei (Studio Nobel, 1997), você conta que a desigualdade da cidade de São Paulo não nasceu por falta de planejamento, mas foi gerada pelas leis.
Exatamente. É uma regulação excludente e é impressionante a força dela. Eu agora estava acompanhando a discussão do zoneamento. O foco desse debate continua o mesmo desde a primeira lei de zoneamento, de 1972. Dialoga com um pedaço muito pequeno da cidade. Nas audiências, o debate é a zona exclusivamente residencial, que quer se manter como tal ante a pressão da verticalização, como se esse fosse o debate fundamental desta cidade. Esse é o debate de um pedaço da cidade.
NR: o projeto da nova Lei de Zoneamento está em pauta na Câmara Municipal.
E como você vê o Plano Diretor, aprovado em 2014?
O Plano Diretor teve alguns elementos de inovação. Me parece que foi a primeira vez que um planejamento da cidade trabalhou a priorização da estrutura urbana em torno do transporte público. Também tem sido muito importante, na construção desse novo ordenamento jurídico, o peso dado às ZEIS (Zonas Especiais de Interesses Sociais), embora tenhamos muito pela frente ainda para poder implementá-las como deveriam.

Foto: Ricardo Rocha/CMSP
Várias pessoas resistem e criam outras maneiras de viver na cidade. A arma são as ocupações, seja nas escolas de São Paulo ou num parque em Wall Street. O que há em comum nessas ocupações?
Um dos efeitos do avanço dessas políticas neoliberais é ativar as forças de resistência a elas. Tem movimentos relacionados ao direito à cidade emergindo em vários lugares. No Brasil, estamos assistindo a uma espécie de renascimento de movimentos sociais ligados à questão urbana. Nos anos 90, São Paulo viveu um momento de negação do espaço público. Foi o boom dos shoppings centers e dos condomínios fechados. Esse modelo matou a rua, porque dizia que era insegura. O que começamos a ver neste momento, inédito desde que me conheço por gente, é uma retomada do espaço público em São Paulo. É o movimento das ciclovias e da priorização do transporte coletivo. O exemplo máximo é o embate em torno do uso da Avenida Paulista como uma área de lazer.
O que esses movimentos de ocupação trazem de novidade?
Eles são muito diferentes dos movimentos sociais dos anos 70 e 80, que basicamente demandavam creche, hospital… Hoje não demandam, já fazem. Por exemplo, o movimento Parque Augusta se instala no parque e usa aquilo como parque e ponto. A mesma coisa com o movimento Buraco da Minhoca, no Minhocão, e A Batata Precisa de Você, no Largo da Batata. A ocupação das escolas eu acho que tem a ver com isso. É uma estratégia de demanda, mas também é uma afirmação de pertencimento. É uma afirmação de que o espaço público não é propriedade do poder público, o espaço público é nosso, a escola é nossa. Esses novos movimentos estão apontando para outras formas de organização, e com uma importância muito grande na perspectiva das políticas. Pensando em participação, a [urbanista] Ermínia Maricato fala em um artigo: “nunca fomos tão participativos”. Tem audiência pública para tudo, conselho para tudo, mas está faltando o poder, nesses espaços, de incidir sobre a política pública. Então, na hora em que as pessoas ocupam, estão fazendo política pública do seu próprio jeito, diretamente e já.
Sobra participação, mas falta empoderamento?
Exatamente, não tem poder nenhum. Tem milhões de conselhos paritários em que o governo tem o voto de Minerva. Mesmo se a sociedade civil votar inteirinha em bloco contra o governo, ela perde. Isso é piada. O processo decisório real não passa por essas instâncias. A participação do cidadão está colocada nas ocupações. Tem experiências de autogestão. Os relatos que vieram das escolas ocupadas, dos meninos e meninas se organizando para cozinhar, para limpar, para fazer, para deliberar. Há toda uma construção política na experimentação da gestão da vida coletiva nesses espaços, que não é mediada por instâncias institucionais.
Uma outra cidade é possível?
Uma outra cidade é possível sempre. O modelo neoliberal de cidade e moradia está morto, porém hegemônico – essa é uma frase do Neil Smith, importante geógrafo. Está morto: não tem capacidade de dar resposta à crise que ele mesmo provocou. Ainda não tem um modelo alternativo a esse paradigma, mas isso é um processo de construção cotidiana dos que vivem na cidade. As cidades hoje são os locais de experimentação e de formulação de pensamento.