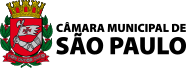Rico Dalasam
O rapper fala sobre como desafiou as barreiras da pobreza, do racismo e da homofobia
Fausto Salvadori | fausto@saopaulo.sp.leg.br
Colaborou Matheus Briet | m.briet@hotmail.com

Foto: Gute Garbelotto/CMSP
Quando encontra os repórteres da Apartes, diante do condomínio onde mora, em uma manhã de outubro, o rapper Rico Dalasam havia acabado de causar. Numa volta de poucos minutos pela Consolação, região central de São Paulo, ouviu xingamentos, fiu-fius e ainda viu um motorista furar o sinal vermelho por ter ficado reparando nele. É como se sua figura de homem negro de shortinho, camiseta curta, tranças nos cabelos e delineador nos olhos fosse uma provocação e o músico confrontasse visões de mundo a respeito de classe, gênero e raça só por andar na rua.
Nascido Jefferson Ricardo da Silva há 27 anos, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, Dalasam teve de aprender a lidar com o preconceito desde a infância, quando os esforços da mãe doméstica conseguiram levá-lo a estudar num colégio particular, onde todos os alunos eram brancos. “Eu nunca me senti parte”, diz. Negro, gay e pobre, descobriu seu lugar no rap, um gênero às vezes tido como machista ou homofóbico, mas que para ele se transformou em melhor amigo.
Na música, como fez a vida toda, também vem causando. Adotou o nome de Rico Dalasam, abreviação de Disponho Armas Libertárias A Sonhos Antes Mutilados, e estourou em 2014 com o single Aceite-C. O primeiro álbum, que emplacou sucessos como Riquíssima e Esse close eu dei, foi lançado no ano passado com o nome Orgunga, uma palavra inventada que, na língua própria de Dalasam, significa “orgulho que vem depois da vergonha”.
Quando percebeu que o preconceito existia?
Bem criancinha. Nas primeiras situações em que eu tinha que fazer alguma coisa em grupo na escola, antes do pré. Tinha uns amiguinhos que não queriam pegar na minha mão. Eu disse para minha mãe: “minha mão não estava suja”, sem saber o que era. Isso foi recorrente até hoje, de outras formas. Desde então fui criando um mecanismo de defesa, se não para não ser vítima, pelo menos para não ser só vítima.
Na época, você estudava em escola particular?
Estudei em colégio particular a vida toda. Tinha um recorte social: ali não tinha negro. Me sentir parte eu nunca senti, mesmo, só que a escola reforçava que a vida tinha que ser mais difícil do que já era. A escola agravou bastante, durante um tempo, minha relação com as pessoas, sempre me trazendo para o introspectivo, para ter uma relação apenas comigo. De algum jeito foi bom, comecei a construir meu próprio mundo, mas fui construindo de um jeito que, hoje, tenho algumas dificuldades com namoro, com família. Dificuldade de ser parte.
E a homofobia?
Veio depois. Virei adolescente e juntou a minha raça, o desespero de já saber o que era o preconceito e de me atirar num lugar de onde não tinha como fugir. Você precisa se abrir e viver, mas e o medo? Eu sabia que, para viver plenamente minha identidade, eu precisava sair um pouco dessa zona de “tô com medo da homofobia”. Aí o orgulho foi nascendo no caminho. Com 17 anos, eu estava ainda “quero beijar os meninos, mas não quero sofrer”. Isso é impossível. Você tem que viver a dor e a alegria da sua existência.
A escola sabia lidar com essas questões?
Não, a escola não sabe. Eu me lembro só de uma professora, durante a escola toda, que me defendeu. A partir da sexta série [atual sétimo ano] eu já me defendia. Falei “preciso dialogar em vez de sair na mão com os outros”. E aí o rap me deu as palavras para estabelecer um diálogo. Chegou uma época em que virei um mediador das tretas na escola. Por saber resolver as minhas tretas, acabava resolvendo as dos outros. O rap me deu esse negócio de “vai lá, troca ideia”.
Qual foi o papel do rap na sua vida?
O rap era um irmão. Era, às vezes, a única pessoa que eu queria ouvir, a única pessoa com quem eu queria falar. Eu ouvia e traduzia para minha realidade e isso fazia muito sentido. Não fui roqueiro porque achava que rock era coisa de branco. O rap era um outro som que me dava uma força.
Como é sua relação com os outros artistas do rap?
Ainda é uma grande dificuldade para os caras [do rap] lidarem com a minha existência. Eu estou nos lugares, é inevitável me encontrar, é inevitável a gente dividir camarim. Estou eu lá, sabe? E é uma imagem, um comportamento, um negócio que afeta. Até hoje eles só andaram com os caras iguais a eles, falando que nem eles, onde um abraço é um soco nas costas. E eu causo quando estou entre eles. Eu provoco um tipo de desconstrução. Eles estão aprendendo bastante comigo.

Foto: Gute Garbelotto/CMSP
O rap é homofóbico?
O rap é uma foto 3×4 da nossa cultura. É um gênero musical, construção de homens. Expressa o que está dentro de todos os homens da sociedade em algum grau. O cara do rap também é o cara do futebol de domingo, é o cara da hora do almoço, engravatado, que vai mexer com a menina, que vai falar bosta sobre gay. É o mesmo homem. O rock é igual, todo gênero musical é. Colocar a culpa da homofobia e do machismo na cultura hip-hop é a mesma coisa que repudiar o funk. A música que vem das margens sofre isso.
Em 2015 os vereadores discutiram se o Plano Municipal de Educação deveria prever a discussão sobre gênero nas salas de aula. O que acha?
Estamos tão para trás que ainda estamos debatendo se isso tem que ser discutido. Se a escola não quiser discutir, beleza, mas os moleques já discutem do jeito deles. As gays da sala já fazem esse serviço. Hoje, as gays da sala já têm uma coisa de não deixar mexer com elas, um pensamento de que, se estiverem juntas, não vão fazer nada com nenhuma. Já existe esse pensamento, um “posso gritar”. É se ver. Quando a gente se vê, a gente se fortalece. As amarras que tinha em mim nessa idade, eles [os alunos de hoje] já estão sem. Isso afeta todo mundo que está perto. E o caminho, sem estar à mercê das leis, da Igreja, da família, de nada disso, é construir uma geração de héteros melhores, que não vão ter problema em ter a experiência que eles acham que devem ter. É hora de se desconstruir esse pensamento sobre o hétero, também. Porque é uma prisão a gente se colocar dentro de “eu sou hétero”, “não posso”, “não vou”, “não é”. Acho que caminha pra isso: ser uma coisa só, sem as amarras do patriarcado.
Qual o retorno das pessoas com relação a sua música?
Chega no inbox do Facebook, todo dia, gente agradecendo, falando emocionado sobre a descoberta do som e como cooperou para a vida deles. Gente do interior do Pará, da Bahia… Quanto mais longe (longe de mim, no caso) existe uma necessidade maior de arejar. São pessoas altamente poderosas por existirem lá na área delas. Elas acham que por algum motivo eu sou algum tipo de referência, de exemplo, mas… nossa! Eu é que me pego muito na história delas. Hoje estou muito mais protegido de várias coisas. Um pouco de grana, um pouco de tudo, me protege já de muita coisa. De repente eu já vivo alguns privilégios dentro da minha existência e o resto da galera toda não.
Você estourou com o single Aceite-C. É uma coisa bem forte pra você a questão de se aceitar?
Vai ser pra sempre. Eu estou falando [aceite-se] para mim, depois para os outros. E eu vou falar para mim sempre. Hoje vivo isso no campo da música. Onde tiver cinco atrações e tiver que derrubar uma, eu sou a primeira. Eles não estão nem aí para os fãs. Todo esse retrocesso [político] só vai acentuar isso tudo. Esse pouquinho que a gente construiu vai se apagar. Agora, o momento é de apagar o preto [que alcançou] uma situação melhor, é apagar o rap enquanto música legítima, é apagar o gay e toda manifestação que envolva isso. Vão passar a borracha até conseguirem jogar a gente de novo lá no nosso canto, no bairro, na festinha, na quermesse, e limar a gente dos grandes eventos, palcos e holofotes.
Onde vê essa tentativa de colocar as minorias de novo para escanteio?
Cara, todas essas medidas políticas recentes, elas propõem exatamente isso: varrer a gente. Se a gente pisou fora do curral onde jogaram a gente a vida inteira, querem fazer a gente voltar para lá, mano. É matar uma geração que está sonhando. É um tiro no imaginário: você perde a capacidade de visualizar um amanhã com mais possibilidades, volta sete casas e se olha do curral para dentro, nunca mais do curral para fora. Você acha que nasceu para viver dentro dessa cerca.

Foto: Gute Garbelotto/CMSP
Qual o papel das artes nessa briga política e econômica tão forte?
Onde o imaginário é destruído, as artes, com um serviço de formiguinha, resistem. Podem destruir mil políticas, mas vai existir o Rico Dalasam. Isso ninguém tira. A gente faz música aqui, ó [mostra o notebook sobre uma mesa]. Abro esse computador, subo o microfone, gravo. Se acabarem todas as possibilidades de gravar em algum lugar, eu vou gravar um vídeo aqui, fazer um clipe, sincronizar. Botei no YouTube, mano, já era. Quero ver eles acabarem com o funk. O funk é o grande herói dos guetos. É igual ao reggaeton [gênero de origem caribenha com forte carga de sensualidade]. Ninguém vai acabar com eles, porque os caras já fazem tudo por conta própria.
Você nunca fez um rap de denúncia, prefere celebração e afirmação. Por quê?
É o que eu quis ouvir sempre. Eu gosto dos raps que têm [denúncia], mas sempre quis ouvir esse que é irônico, que debocha, que está na bosta, mas sambando. A gente pode levar uma “lampadada” [referência a um ataque homofóbico ocorrido na Avenida Paulista em 2010, quando dois jovens foram agredidos com lâmpadas fluorescentes], mas vamos levar uma “lampadada” pulando, gritando, celebrando. A gente celebra a vida muito perto da morte.
É muito diferente ter morado em Taboão da Serra e morar no centro de São Paulo?
Aqui eu recebo um olhar estrangeiro, que eu sempre recebi, mas aqui é mais aguçado. O cara daqui do lado, de outro condomínio, reclamou do som. Ficou falando “põe o fone, mó chato esse som”. Ninguém [da vizinhança] planejou a vida para estar ao lado de preto ouvindo rap e tudo o mais. Quando ligo o som para arrumar a casa, vou botar Kekel e Livinho [cantores de funk] para tocar. O cara vai ficar chateado. Isso é muito distante para ele. Eu olho aqui e a imagem mais próxima que eles têm de alguém como eu é a mina que vem limpar a casa deles, o cara lá embaixo que revira as coisas que eles jogam no lixo. É o mais perto que eles têm no imaginário. Aí, mano, bagunça a cabeça deles me ver aqui dentro.
Você busca chocar ou isso acontece sem pensar?
Buscar a gente não busca. A gente evita, porque não quero que ninguém me encha o saco. Mas tem dia que eu esqueço e, sei lá, visto uma saia, uma blusa, uma coisa assim que, quando eu vejo, é uma afronta, está confrontando. Mas foi tão espontâneo, tá ligado? Imagina se a gente vai acordar e falar “hoje eu vou comprar pão causando”. Não é isso. Eu só quero viver.