Renata Oliveira | renata.olliver@live.com
Colaborou Fausto Salvadori | fausto@saopaulo.sp.leg.br
Publicada originalmente em abr/2018
Quando o professor de Geografia Fabio Augusto Machado, 36 anos, foi dar aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Marili Dias, no bairro do Morro Doce, zona norte de São Paulo, descobriu que os alunos se sentiam desconectados da escola e do resto do mundo por viverem num bairro de periferia tido como distante e perigoso. Ouvindo os alunos e se aproximando da sua realidade, Fabio logo adotou para si e para os alunos o apelido de “Perigoso”. O risco assumido pelos estudantes, segundo o professor, era claro: o de “identificar a opressão em que viviam” e, a partir daí, buscar “possibilidades de transformação”.
Na Emef, professor e alunos realizaram, em 2015, o projeto pedagógico A construção da identidade. Com oficinas de rap, grafite e poesia de protesto, Machado ajudou os estudantes a encontrarem seu “lugar no mundo” ao tratar do que considera ser o problema mais recorrente nas salas de aula da periferia: a baixa autoestima. A iniciativa lhe rendeu o Prêmio Professor Nota Dez, da Fundação Victor Civita, em 2016.
Com 11 anos de magistério, sempre deu aulas em escolas públicas da periferia. Ele recebeu a Apartes para uma conversa que se mostrou uma aula sobre desafios que envolvem a educação, a necessidade de trazer a escola para o século 21 e a importância de descobrir os talentos dos estudantes, principalmente daqueles considerados alunos-problema.
"As periferias assumem a função de oferecimento de mão de obra barata" Fabio Machado
Como você se tornou professor?
Desde pequeno eu gostava de brincar de escolinha com a minha irmã e eu era o professor, apesar de termos a mesma idade. Sempre senti muito prazer em ensinar. Fiz a licenciatura e o bacharelado em Geografia no Unifieo (Centro Universitário Fieo), em Osasco, e um curso de Pedagogia na Uninove. Comecei na rede estadual e entrei na Prefeitura. Gostei de todas as faixas etárias com que trabalhei, embora tenha uma predileção por 8º e 9º anos. Gosto do conteúdo e de trabalhar com essa fase da vida em que o adolescente está lidando com uma série de conflitos. Tenho isso muito fresco na memória, sei como lidei com os meus, as referências que busquei, e tento ser uma referência também na vida deles. Descobri que tenho algumas ferramentas emocionais e acadêmicas para contribuir com a construção da identidade. Desenvolvo isso desde que comecei e formalizamos esse trabalho com o apoio do Departamento de Geografia da USP (Universidade de São Paulo), que tem uma parceria com a Escola Marili Dias. A cada ano, a USP propõe um tema para ser tratado com o aluno dentro dessa perspectiva de uso do território. Em 2014, assumi a autoria do projeto e o tema na ocasião era arte e cultura da periferia. A escola tem essa questão do isolamento. Quando cheguei, estava toda depredada, apesar de ser nova. Através de conversa com os alunos, entendi que eles não tinham identificação nenhuma com a escola por causa da forma como foi criada. Foi colocada em um local onde eles não queriam, porque ali tinha um campinho de futebol, e a única área de lazer da região foi perdida para a escola. Para piorar, os alunos foram remanejados das escolas vizinhas e obviamente os diretores tentaram retirar aqueles “alunos-problema”. Então, todo o público da Marili Dias era de alunos rotulados como problema. O aluno-problema esconde uma potência, e foi com isso que eu tentei contribuir para que eles identificassem.
A escola tem dificuldade em lidar com a figura do aluno-problema?
As discussões no espaço acadêmico têm avançado muito, mas nós ainda temos uma ideia de escola muito arcaica. É uma escola do século passado que está aí. Ainda não conseguiu se adequar ao século 21. A aprendizagem precisa ter sentido para o aluno, e muitas vezes não tem, porque a gente não o escuta. A escola ainda segue uma estrutura autoritária. Não temos mais tablados, mas o professor ainda age como se estivesse em um. As pessoas às vezes confundem ouvir o aluno com permissividade, mas não é. O aluno espera por limites, mas quer fazer parte da construção desses limites. Não pode ser um limite arbitrário, tem que fazer sentido para ele. Senão acaba gerando rótulos, estigmas, autoritarismos. Paulo Freire falava: “professor tem que ter autoridade, não ser autoritário”. Até para se construir uma cultura democrática no País, você tem que questionar o autoritarismo da escola. Nós ainda menosprezamos muito as pessoas que atendemos.
A educação pode ser opressora?
Pode. O Paulo Freire também dizia: “quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor”. Às vezes, para aprender alguma coisa, precisamos desaprender outras, porque tudo se ensina. Pensamos, por exemplo, no preconceito: as crianças não nascem sabendo que o diferente tem que ser rejeitado, isso é ensinado. Então a escola pode, sim, ter uma função de reforçar estereótipos e opressões, e é o que acontece muito em escolas periféricas que estão em situação de vulnerabilidade. O menino se vê naquela situação e se associa em “famílias” (gangues) para se sentir protegido. Por isso a necessidade de trabalhar a identidade. Se ele não tem o conhecimento de si mesmo, acaba reafirmando os rótulos que recebe.
É isso que foi trabalhado no projeto pedagógico A construção da identidade, premiado pela Fundação Victor Civita?
O objetivo principal era trabalhar a autoestima. Trabalhamos desde 2014 a questão da arte e da cultura na periferia, e, em 2015, quando o projeto premiado foi desenvolvido, em vez de ver só aquilo que fragiliza o aluno no local geográfico de que ele faz parte, focamos em passar a enxergar potência, quem sabe uma noção de pertencimento e até orgulho. Eles se sentiam excluídos porque existia uma barreira geográfica naquela região chamada Rodovia Anhanguera. Era necessário passar por ela para acessar os equipamentos públicos da cidade. Eles se sentem expulsos da cidade e rotulados, porque fazem parte do Morro Doce, do outro lado da rodovia, e vem o estigma “olha, lá é perigoso”. Como trabalhei lá por muitos anos, nós acabamos criando uma marca. Conforme eu passava por lá, eles falavam “e aí, Perigoso?”. Eu respondia no mesmo tom: “e aí, Perigoso, beleza?”. Só que o perigoso para nós assumiu outro sentido: nós éramos perigosos porque criticávamos aquela realidade social na qual estávamos inseridos, sem glamourizar a pobreza. Nós identificávamos uma opressão, mas também a possibilidade de transformação. Às vezes, a gente fica num discurso de coitadismo, e a educação tem que oferecer essa contrapartida: “ó, você é oprimido aqui, você quer fazer parte disso ou quer ser parte da resistência?”. Sendo que a resistência são os livros, o estudo, a informação. Por isso, nesse projeto de construção de identidade, nós trabalhamos com a professora de Língua Portuguesa a poesia de protesto, em que o aluno manifestava a visão que tinha do lugar, dele, do mundo.
Como se dá essa construção da identidade?
Todo o projeto tem que ser algo construído. Eu falei: “ó, a gente tem uma proposta de trabalhar o tema da construção da identidade no espaço escolar a partir do lugar”. Não demorou para que eles começassem a sugerir oficinas. “Olha, professor, uma coisa muito legal da nossa identidade é a música, então por que a gente não faz uma oficina de rap? Professor, outra coisa que está ligada à nossa identidade é a nossa manifestação artística”, então fizemos uma oficina de grafite. Quem sabia fazer pela música, fazia pela música, quem sabia fazer pelo desenho fazia pelo desenho, e aquele que sabia pelo texto fazia pelo texto, então fizemos uma parceria com a professora de Língua Portuguesa e desenvolveram a poesia de protesto. O principal são alguns detalhezinhos na educação que chamamos de currículo oculto: o olhar, uma palavra… Eu tinha uma aluna, a Karina. Estávamos na reunião de pais e aí apareceu a mãe da Karina muito indignada com o boletim da menina, e a garota já chorando. Eu estava com um texto dela e falei: “Olha, mãe, posso te mostrar a sua filha?”. Ela começou a ler aquilo e a chorar: “Minha filha que fez isso?”. Eu respondi: “Na minha frente, mãe, durante a aula, então ela tem condições de desenvolver pensamentos sofisticados, só precisa de alguém que acredite nela”. A Karina, depois de já ter saído da escola, me manda mensagens contando que quer ser escritora. Foi aquele gesto, naquele dia, em que eu mostrei a beleza do texto dela, que fez a diferença na vida dela. A gente precisa saber ver a potência das pessoas.
Foto: Gute Garbelotto/CMSP
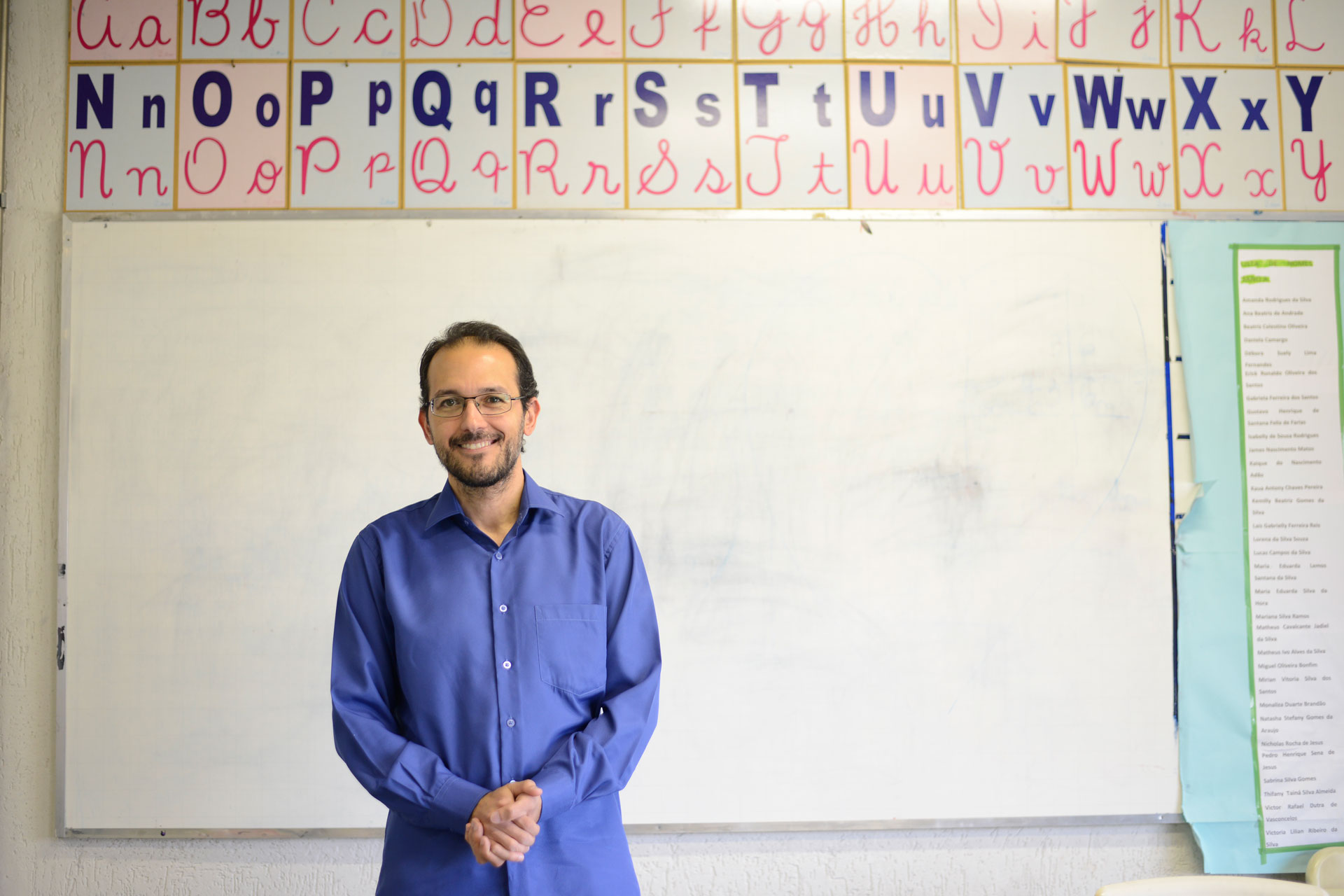
E era uma potência que não se refletia no boletim, na avaliação formal.
Não se refletia, e aí a gente começou a investigar por que isso acontecia. Por que os alunos tinham baixo rendimento? Porque as expectativas dos professores não correspondiam às expectativas dos próprios alunos, então eu fiz uma experiência quando estava fazendo um curso de Pedagogia em 2015 e aprendendo a teoria das inteligências múltiplas do [psicólogo norte-americano] Howard Gardner. Ele identificou que o ser humano tem no mínimo sete inteligências, mas a escola em geral se ocupa de duas: a linguística e a lógico-matemática. Existem duas inteligências, e eu acredito que são as mais importantes, que definitivamente não são trabalhadas nas escolas: a interpessoal, a capacidade de você desenvolver empatia, sentir o que o outro sente, e a inteligência intrapessoal, a capacidade de você reconhecer as próprias limitações e potencialidades. Resolvi trabalhar essas duas inteligências com eles usando o conceito de autoestima. Numa aula, trouxe quais são os elementos que fazem baixar e os que constroem a autoestima. Quando percebemos, estávamos lá em terapia de grupo, os alunos chorando e se abraçando porque começaram a citar críticas excessivas, cobranças, noção de não pertencer a um grupo, rejeição. Aí eu falei “tá, mas como faz para aumentar a autoestima?”. E começamos a ver: fazer o que se gosta, ser ouvido, se sentir respeitado, valorizado, mas, principalmente, o autoconhecimento. Existe uma coisinha muito simples que os professores precisam fazer: ouvir seus alunos. Eles precisam ter a opinião valorizada, e muitas vezes isso não acontece. Uma coisa pouco ortodoxa que fiz foi trazer textos do Augusto Cury para eles. Ele repete muito nos livros a questão do autogoverno, de ser o autor da sua própria história, e eu trouxe esse conhecimento para a sala de aula. Acho que Augusto Cury é injustamente criticado pela academia, porque ele consegue se comunicar com todo mundo e, no meio acadêmico, parece que existe um tesão em falar só para eles mesmos entenderem. Acredito que o aluno tem a condição de desenvolver pensamentos muito sofisticados, mas talvez não nessa linguagem. Esses moleques no final do ano estavam falando sobre [o filósofo polonês Zygmund] Baumann, [o geógrafo brasileiro] Milton Santos, modernidade líquida… Eles escreveram algumas letras de rap que, se você escuta, arrepia. Eles, os alunos-problema do Morro Doce, os alunos rotulados. Eu provocava muito, fazia aqueles discursos inflamados, dizia “vocês fazem parte de uma estrutura aqui, a escola aqui de vocês é para formar mão de obra barata, estou aqui para vocês poderem servir ao filho do rico”. Eles reagiam e eu falava: “então faz alguma coisa para mudar, faz diferente, você pode!”. Aquilo inflamava e eles colocavam no papel. O aluno precisa ser provocado, não humilhado. Eu gosto de dizer que esses alunos se transformaram em líderes em suas escolas. Muitos foram para as ETECs [Escolas Técnicas Estaduais], o que não é comum em uma escola de periferia.
"O aluno-problema esconde uma potência" Fabio Machado
Como lidar com a questão da violência na escola?
Primeiro tem que admitir que o problema existe e isso tem que estar na pauta. Segundo, a escola tem que oferecer outras possibilidades. Muitas vezes aquele menino e aquela menina não têm perspectiva porque não veem sentido nas aulas. Então tudo passada pela questão do significado. Nós temos que lembrar também que somos todos seres humanos. A educação não vai ser legal o tempo todo, mas precisa ter graça. E quando tem graça? Quando eu ofereço uma atividade diferenciada, escuto meu aluno, quando debate, quando a gente faz uma gincana, até quando a gente discute, quando ele participa. O aluno precisa participar mais e isso passa pela questão do protagonismo
Como lidar com o problema da evasão escolar?
É um problema gravíssimo, sobretudo no ensino médio. Quando o aluno vai envelhecendo, vai abandonando a escola, e aí é uma questão social. Claro que tudo isso que conversamos tem sua importância, mas também tem um limite. A escola carece de recursos. Professor mal remunerado tem dois cargos. No ensino municipal, isso significa dar 54 aulas por semana. Como vai preparar 54 aulas de qualidade? Podemos falar muito sobre educação significativa e modelos de educação, mas, enquanto não mexer na estrutura, vai ficar dependendo da inspiração quase espiritual daquele professor lá da favela que mudou a comunidade. Ainda vai continuar sendo uma questão pontual. Precisa haver políticas públicas. A educação precisa ser pensada com responsabilidade. Nós não temos um projeto de País, porque, se tivéssemos, estaríamos investindo seriamente na educação. Nós temos um projeto de uma elite econômica empresarial. As periferias assumem uma função dentro da sociedade, que é de oferecimento de mão de obra barata. Nós temos que oferecer possibilidades para virar o jogo. A desigualdade social é a pior desgraça que existe neste País, maior do que a pobreza, e são duas coisas diferentes. A desigualdade social é mais perversa porque eu vejo o outro consumindo, então isso me afeta ainda mais. Não é só a carência das coisas, não é só a necessidade, é o meu lugar no mundo. Existe um verdadeiro genocídio da população negra, por exemplo. Não é um discurso de esquerda, isso acontece. É uma situação estrutural.
Enlarge

Éramos perigosos porque criticávamos a realidade social na qual estávamos inseridos - Foto: Gute Garbelotto/CMSP
O Plano Municipal de Educação lida com essas questões?
Lamento muito o sufocamento das discussões sobre relações de gênero, isso empobrece o debate, mas de um modo geral o Plano tem seu valor. Toda meta tem seu valor, porque aponta para alguma direção. Daí também há a questão da BNCC (Base Nacional Curricular Comum), a que os movimentos de esquerda têm muitas ressalvas, mas… olha que beleza a diversidade! Eu tenho uma formação de esquerda e sou favorável à BNCC. Ela não faz com que um aluno aprenda um conteúdo só em virtude do CEP dele. Às vezes o aluno é privilegiado porque tem um diretor e um grupo de professores que têm uma belíssima formação. Aquele aluno vai ter sorte de ter caído naquela unidade, mas aquele que nasceu na rua de baixo não tem professores com essa formação e não vai ter essa sorte, o mesmo conhecimento. Eu gosto do Plano Municipal de Educação, apesar de não ser o ideal. Ele é importante porque dá um direcionamento para nós.
Com todas essas dificuldades, como o professor não desanima com o próprio trabalho?
A grande verdade é que muitos desanimam. Infelizmente, a gente está perdendo muita gente boa, que está buscando outras áreas. A carreira docente é cada vez menos atrativa.
Como você faz para não desanimar?
O que me motiva, o que me mantém de pé, apesar das condições da carreira, é a possibilidade de interferir no oferecimento de possibilidades. O que me dá tesão na educação é saber que eu contribuí para que um menino da periferia possa buscar outras alternativas, para que ele possa acreditar no potencial dele, saber que sua história não está definida, porque, por pior que sejam as condições da desigualdade, a possibilidade existe. As pessoas são em si um foco de possibilidades, toda pessoa encerra em si uma potência enorme para fazer a diferença e, apesar dos tempos sombrios que nós vivemos no nosso País, a educação ainda é a melhor ferramenta para virar o jogo. Uma vez participei de uma palestra em que o cara brincava que todo mundo precisava ter um Yoda, como em Star Wars. Respondendo à sua pergunta sobre o que me faz continuar: é que eu quero ser o Yoda na vida dos meus alunos.
Newsletter Apartes
Acesse sua caixa de spam ou lixo eletrônico, selecione o e-mail e marque o remetente como confiável
