Texto: Fausto Salvadori | fausto@saopaulo.sp.leg.br
A redação do jornal Folha da Manhã, um dos antecessores da Folha de S.Paulo, ficou em silêncio quando anunciaram que “uma poetisa” estava ali para mostrar seus versos à equipe, em pleno plantão de sábado, 24 de fevereiro de 1940. Ninguém se ofereceu para recebê-la. É que os jornalistas ali odiavam “mulheres metidas a literatas”.
O secretário da redação, com um sorriso malicioso, empurrou a tarefa ingrata para o repórter Willy Aureli, acostumado a escrever sobre “fatos disparatados”. E lá foi o jornalista lidar com aquele “caso exótico”, que acabava de entrar na redação com um caderno embaixo do braço: uma mulher negra que fazia literatura.
Enlarge

A escritora autografa seu livro Quarto de despejo | Crédito: Correio da Manhã/Arquivo Nacional
Na reportagem publicada pela Folha, no dia seguinte, Willy não se preocupava em disfarçar o próprio racismo, nem a má vontade com que encarou a situação. Fez questão de escrever que a jovem era “um belo espécime de mulher negra”, dona de um bonito sorriso, que comparou a “um traço claro numa noite escura” e a “um raio de luz em tamanhas trevas” — sim, ele escrevia desse jeito.
Ouviu-a contar que se chamava Carolina Maria de Jesus, tinha 26 anos, era natural de Sacramento, Minas Gerais, e que, vivendo em São Paulo, batalhava para ser reconhecida como escritora, mas ninguém a levava a sério: “Ando pelas redações, e quando sabem que sou preta, mandam dizer que não estão”. Durante a conversa, Willy gostou que Carolina falava com franqueza e tranquilidade, sem “a menor fanfarronice ou gabolice, tão próprias dos negros pernósticos”, mas continuava incomodado por ter de falar com ela tendo mais o que fazer da vida naquele sábado.
A ironia do repórter desapareceu, contudo, ao ver os poemas de Carolina. Achou “tudo muito simples, muito puro, sincero”, uma literatura de “fala direta ao coração dos humildes”. Resolveu publicar na íntegra, dentro da reportagem, o poema O colono e o fazendeiro, em que Carolina usava quadras de rimas alternadas para denunciar a exploração dos trabalhadores rurais (“Diz o brasileiro/ que acabou a escravidão/ mas o colono sua o ano inteiro/ e nunca tem um tostão!”). Ao final do texto, já sem qualquer traço de ironia ou má vontade, o repórter previa: “É possível que ainda se torne célebre”.
A profecia contida no final daquela reportagem, a primeira publicada sobre Carolina Maria de Jesus, seria cumprida vinte anos depois, em 1960, quando a autora, aos 46 anos, conseguiu publicar seu primeiro livro, Quarto de despejo: diário de uma favelada, em que conta seu cotidiano de catadora de papel, mãe solo de três crianças e moradora da favela do Canindé — que existia na região central de São Paulo antes da construção da Marginal Tietê.
Enlarge

Fotografada antes de embarcar em avião da Air France | Crédito: Correio da Manhã/Arquivo Nacional
Sucesso instantâneo. A primeira edição, de 10 mil exemplares, esgotou-se na semana de lançamento. A autora do dia para a noite se tornou uma das escritoras mais populares do Brasil, aparecendo constantemente em tevês, rádios, jornais, revistas. Em 1961, Carolina recebeu o título de Cidadã Paulistana, da Câmara Municipal de São Paulo (CMSP), a partir de um projeto do vereador Ítalo Fittipaldi. Celebrado por escritores como Clarice Lispector e Manuel Bandeira, Quarto de despejo também foi visto com desconfiança por alguns críticos brancos, que questionavam os méritos literários da obra ou até mesmo colocavam em dúvida que uma mulher negra com apenas dois anos de estudo formal pudesse tê-lo escrito. Nos anos seguintes, foi traduzido para 13 línguas e publicado em mais de 40 países, onde vendeu mais de um milhão de exemplares.
Carolina era muitas. Além do diário que a tornou célebre, escreveu poemas, romances, peças de teatro, provérbios. E sua arte também se expressava em outras linguagens. Gravou um disco em que cantava 12 canções compostas por ela. E tinha talento para as artes visuais, a julgar pelas “fantasias sensacionais” que confeccionava para se apresentar em um circo da favela ou para sair no Carnaval, misturando penas de galinha carijó com lampadinhas que acendiam em seu vestido, uma composição visual que hoje poderia ser chamada de afrofuturista.
Mas todo esse talento não bastou para impedir que Carolina morresse na pobreza, em 1977, aos 62 anos, esquecida pelo “mundo dos brancos”, como ela se referia aos que mandam no País.
Enlarge

Disco 'Quarto de despejo', em que Carolina canta suas composições, lançado em 1961 | Crédito: RCA Victor
Com as caras de Carolina
Leitores, artistas, ativistas e pesquisadores negros e negras, porém, nunca se esqueceram de Carolina. À medida que autores negras e negros foram conquistando cada vez mais espaço na mídia, nas artes e na academia, o nome da autora de Sacramento foi resgatado para as novas gerações, principalmente a partir do centenário da autora, em 2014, por meio de reedições, documentários, exposições, biografias, sambas-enredos, homenagens.
Uma dessas homenagens é o prêmio Carolina Maria de Jesus, instituído pela Câmara Municipal de São Paulo, por meio da resolução 4, de 14 de julho de 2021, a partir de projeto dos vereadores Erika Hilton (PSOL), Antonio Donato (PT), Eduardo Suplicy (PT), Luana Alves (PSOL), Paulo Frange (PTB), Professor Toninho Vespoli (PSOL) e Senival Moura (PT).
“Carolina é um ancestral que está entre nós. Poder, através dela, reconhecer o trabalho de outras mulheres incríveis e tão potentes como ela é algo que me deixa profundamente feliz”, afirma Erika Hilton. Para estar à altura de Carolina, Cinthia Gomes, então chefe de gabinete da vereadora e integrante da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, explica que a honraria foi pensada para “reconhecer o trabalho das mulheres negras nas diferentes áreas em que Carolina atuou”, como escritora, música, artista visual, educadora e catadora.
Assim, o prêmio homenageia mulheres negras que se destaquem em cinco categorias: escrita literária (prosa e poesia); música (canto e composição); arte de rua; educação e luta contra a fome e a miséria (concedida a catadoras). A escolha é feita por uma comissão julgadora, indicada pela Comissão Extraordinária de Direitos Humanos e Cidadania da CMSP.






A estreia do prêmio se deu no mês da Consciência Negra, em 18 de novembro de 2022, no Salão Nobre do Palácio Anchieta, que se viu tomado pelo batuque e pelo axé do Bloco Afro Ilú Oba De Min, formado apenas por mulheres, que abriu o evento cantando sobre Carolina, batendo em tambores e desfilando em pernas de pau diante do olhar sisudo dos bandeirantes e padres dos quadros que adornam o salão.
Na primeira edição, o prêmio homenageou a escritora Alice Cavalcante de Andrade, a Lama, autora do livro Da Lama ao Caos, a cantora Bia Ferreira, a artista de rua Rose Leite, a educadora Cristina Adelina Assunção (projeto Slam Interescolar) e a ativista Ana Rita Dias da Encarnação, a Íya Ana Rita.
“Nesta noite nós retomamos o nome de Carolina Maria de Jesus e seu legado ao lado de mulheres que também assim o fazem na sua vida, na sua trajetória e no seu cotidiano, para reafirmar e relembrar que estamos de pé e seguiremos de pé, que nós continuaremos abrindo caminho até que todas as opressões e violências cometidas contra nós sejam derrubadas e até que nossas humanidades sejam validadas”, saudou Erika Hilton ao final do encontro.
As próximas edições do prêmio passam a ocorrer na semana de 14 de março, no aniversário da escritora.
“Carolina do Diabo”
A pobreza acompanhou Carolina desde seu nascimento, em 1914, em um bairro pobre de Sacramento (MG), onde a população negra que havia ajudado a gerar a riqueza da cidade, como escravizados no garimpo do ouro, agora vivia à mercê de empregos precários e da violência policial constante. Filha de Maria Carolina de Jesus, a Cota, não teve qualquer contato com o pai, João Cândido Veloso, um violeiro que sua mãe havia conhecido num dos bailes da cidade e que sumiu no mundo após engravidá-la.
Desde o começo, a família notou que havia algo diferente em Carolina. A criança não parava de falar, fazendo tantas perguntas sobre o mundo que sua mãe e suas tias pensaram que pudesse ser louca. Em suas memórias, Carolina conta que sua mãe a levou ao dirigente de um grupo espírita que atuava como médico sem licença, Euripedes Barsanulfo, quando ela tinha por volta de quatro anos. Após examiná-la, Barsanulfo teria diagnosticado que a menina não era louca, mas que teria um destino diferente: “Ela vai adorar tudo que é belo. A sua filha é poetisa”.

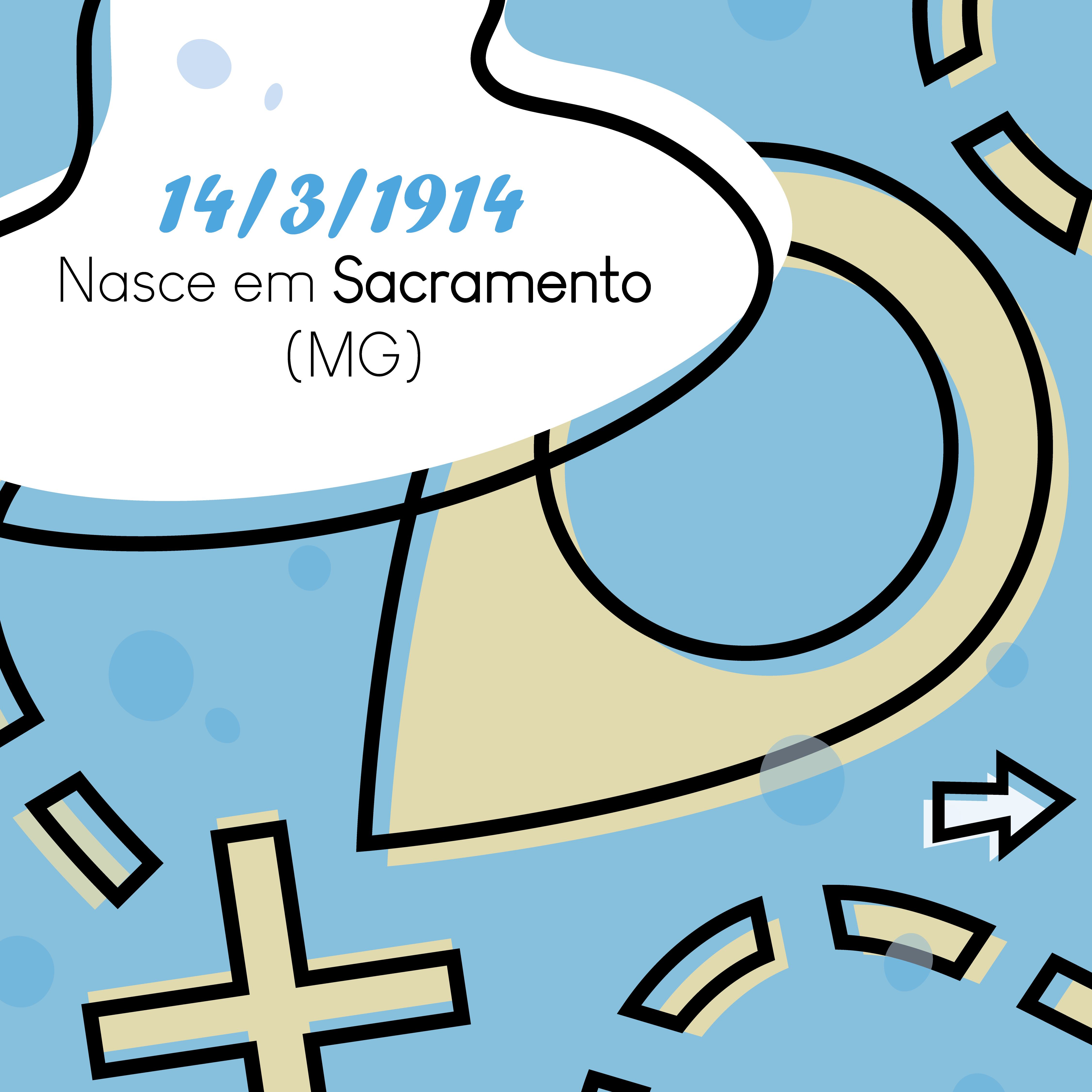

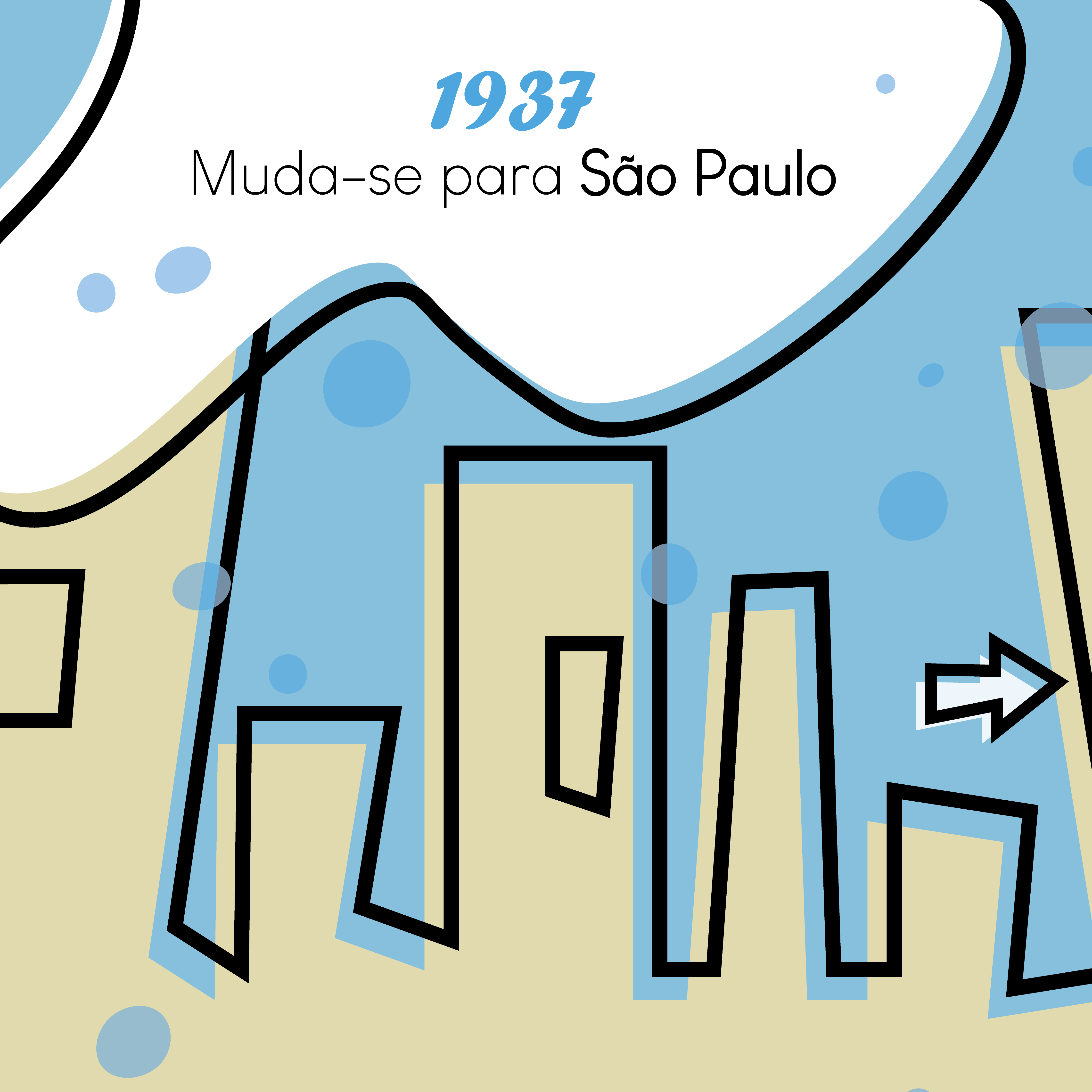
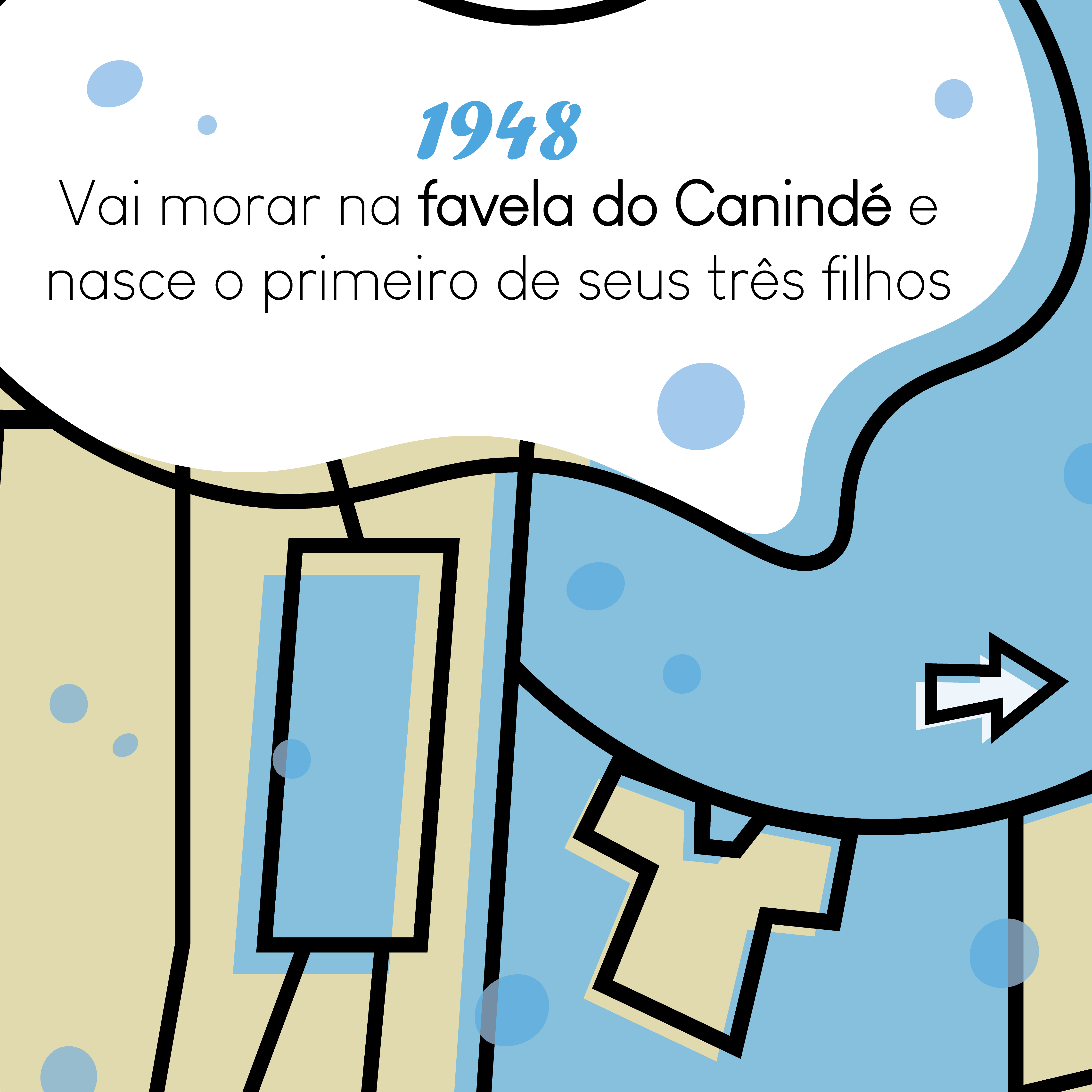




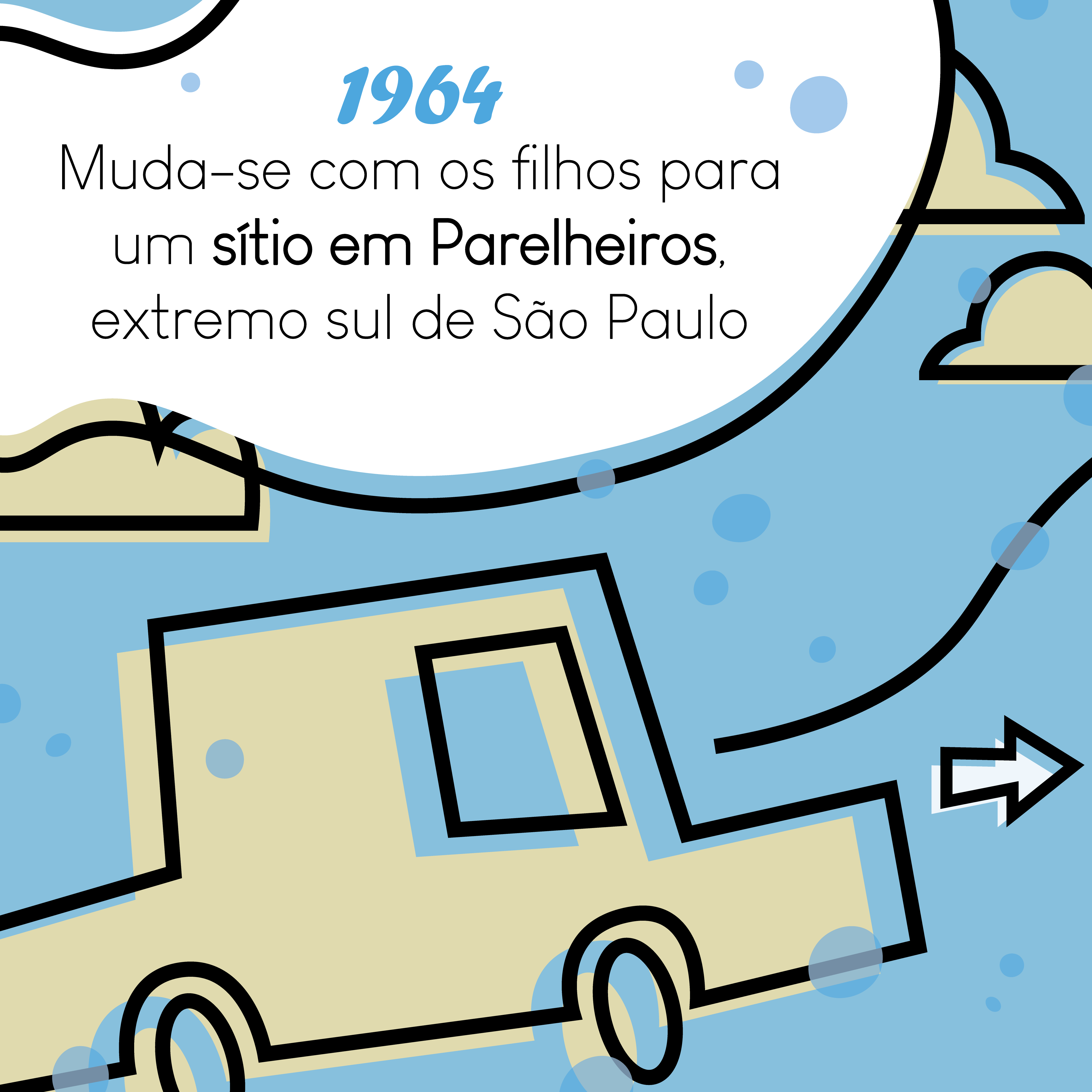

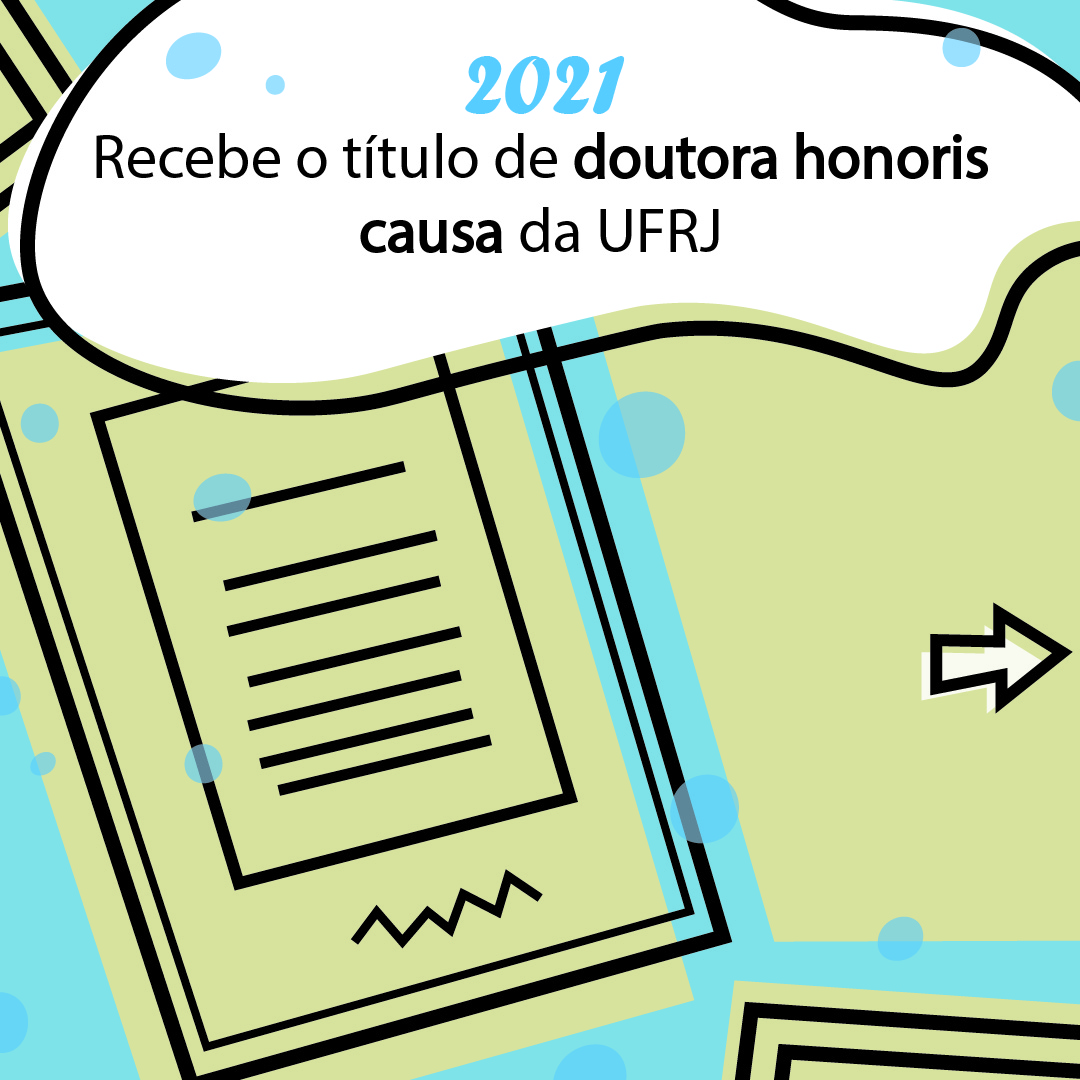

Era um diagnóstico que se mostrava bastante distante da realidade da comunidade de Carolina, onde praticamente todos eram analfabetos — embora o seu avô materno, Benedito José da Silva, fosse um homem respeitado na cidade pela sua sabedoria, conhecido como “Sócrates africano”. Foi um acaso que acabou levando a criança a ser alfabetizada. Cota foi trabalhar como lavadeira para Maria Leite Monteiro dos Barros, que dizia gostar de ajudar pobres e negros, e que fez questão de que Carolina fosse matriculada no Colégio Espírita Allan Kardec.
Na escola, foi alfabetizada pela professora Lanita Salvina, de quem Carolina iria sempre se lembrar. Ela incentivou a menina a escrever o que lhe vinha à mente e lutar pelos seus sonhos, mostrando histórias de pessoas negras que haviam vencido na vida. Após dois anos, contudo, a futura escritora teve de deixar a escola para acompanhar a mãe em outros trabalhos. Nunca mais voltaria a ter qualquer oportunidade de estudo formal.
Só gosta do frio quem tem abrigo. Carolina Maria de Jesus
Ao lado da mãe ou sozinha, Carolina passou a adolescência trabalhando em Sacramento e nas cidades da região em uma série de empregos precários, como cozinheira, empregada doméstica ou trabalhadora rural, explorada por patrões que pagavam pouco ou nada, em condições que hoje seriam descritas como análogas à escravidão, mas na época eram a regra. Dormiu nas ruas e em unidades da Santa Casa.
Mesmo em condições tão difíceis, estava sempre lendo tudo o que lhe caísse em mãos, de romances a dicionários. A leitura apaixonada e obsessiva levou Carolina a mergulhar por conta própria na arte literária e, de tanto amar as palavras alheias, passou a escrever as suas, principalmente na forma de poemas. “O meu sonho era viver cem anos para ler todos os livros que há no mundo”, escreveria, anos depois.
O meu sonho era viver cem anos para ler todos os livros que há no mundo. Carolina Maria de Jesus
A jovem negra, sentada na frente do portão de casa com um livro nas mãos, era uma visão tão inusitada para a Sacramento do começo do século que levou vizinhos a chamarem a polícia. Inventaram que a menina teria sido vista lendo o Livro de São Cipriano (um compêndio de magias e simpatias que, embora de origem europeia, era associado aos negros na imaginação racista de muitos brasileiros) para jogar feitiços sobre os brancos. A polícia foi até a casa de Carolina e, ao tentar interceder pela filha, Cota acabou presa junto com ela.
Enlarge

Com Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, em 1961 | Crédito: Correio da Manhã/Arquivo Nacional
Enlarge

Carolina com o presidente João Goulart, em 1961 | Crédito: Correio da Manhã/Arquivo Nacional
Aquela foi a segunda detenção de Carolina. A primeira havia acontecido anos antes, quando um padre chamado Geraldo a acusou de furtar 100 mil réis de sua casa. Só não teve consequências mais sérias porque o sacerdote acabou encontrando o dinheiro antes que a polícia encostasse a mão na menina.
Dessa vez, porém, seria diferente. Mãe e filha foram levadas à Cadeia Pública, onde os policiais torturaram ambas ao longo de cinco dias. Quando enfim foram libertadas, Cota carregava um dos braços fraturado. Presas, castigadas e soltas, mãe e filha nunca chegaram a ser acusadas de nada — assim como os policiais que as espancaram ou o padre que a acusou falsamente.
Quando Carolina Maria de Jesus deixou sua cidade natal com destino a São Paulo, que diziam ser “um paraíso para os pobres” que buscassem progredir na vida, o povo de Sacramento a chamava de “Carolina do Diabo”.
Não há coisa pior na vida do que a própria vida. Carolina Maria de Jesus
Quarto de despejo
Carolina foi tentar a vida em São Paulo, em 1937, e não demorou para descobrir que a cidade não era o “paraíso” dos pobres como tinham lhe contado. Tentou vários empregos: auxiliar de enfermagem, faxineira, artista de circo, cozinheira, empregada doméstica. Vivia sendo demitida. Muitas vezes, por entrar em choque com patrões exploradores (“Não gosto de trabalhar/ Para os donos de pensão/ Que quer tudo muito limpo/ Mas não quer comprar sabão”, denunciou em um poema). Em outras, por não conseguir concentrar no trabalho uma cabeça que só pensava em literatura: “Entre o fogão e as panelas, só o diabo da poesia me tentava… Certo dia enquanto escrevia uma poesia, a panela do feijão queimou e a patroa me mandou embora”.
Entre o fogão e as panelas, só o diabo da poesia me tentava... Certo dia enquanto escrevia uma poesia, a panela do feijão queimou e a patroa me mandou embora. Carolina Maria de Jesus
Passou a catar materiais recicláveis nas ruas para vender. Um trabalho exaustivo, que mal lhe garantia o alimento, mas ao menos era uma função em que não tinha que abaixar a cabeça para ninguém.
Enlarge

Carolina diante da favela do Canindé | Crédito: Divulgação
Engravidou, mas a filha nasceu morta, por causa das condições difíceis em que Carolina vivia. Novamente grávida, foi morar na recém-criada favela do Canindé, à beira do Rio Tietê, próximo do atual Estádio do Canindé – Portuguesa. Com as sobras de madeiras da construção da Igreja Nossa Senhora do Brasil, uma das mais imponentes da cidade, ergueu o seu barraco. Na favela nasceram seus três filhos: João José de Jesus, em 1948; José Carlos de Jesus, em 1950; e Vera Eunice de Jesus Lima, em 1953. Todos filhos de pais diferentes, mas com algo em comum: a ausência. “Tudo na minha vida é fantástico. Pai não conhece filho, filho não conhece pai. 10 de agosto. Dia do Papai. Um dia sem graça”, escreveu Carolina em um dos cadernos nos quais anotava tudo o que acontecia em sua vida.
Enlarge

Carolina e os filhos João José, José Carlos e Vera Eunice | Crédito: Divulgação
Seguia escrevendo sem parar, em folhas e cadernos que encontrava no lixo. Além dos diários, escreveu peças de teatro para apresentar nos circos, mas esbarrava no racismo. Os diretores lhe diziam: “É pena você ser preta”. De volta para casa, anotava: “Esquecendo-se eles que eu adoro a minha pele negra, e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco, é só dar um movimento na cabeça êle já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reincarnações, eu quero voltar sempre preta.”
Se é que existe reincarnações, eu quero voltar sempre preta. Carolina Maria de Jesus
Passou décadas frequentando as redações de jornais para mostrar os seus textos. Conseguiu publicar alguns artigos e poemas, mas muitas vezes não era levada a sério. Ao perguntar a um jornalista da redação de O Dia, Francisco Sá, se gostaria de ouvir os últimos versos que tinha escrito, a resposta foi “Oh, meu Deus! Por que é que eu não nasci surdo?!”. Ambiciosa, chegou a mandar originais para a revista Reader’s Digest (Seleções), em Nova York, que os devolveu. Nada dava certo.
Até que um dia, em 1958, apareceu no Canindé um jovem repórter chamado Audálio Dantas, em busca de uma matéria sobre a vida na favela. Ao conhecer Carolina e seus escritos, Audálio desistiu de escrever a reportagem. “A história que eu buscava na favela já estava escrita com furor, revolta e às vezes até com lirismo, em mais de vinte cadernos encardidos, pela favelada Carolina Maria de Jesus”, escreveu o jornalista, ao recordar aquele momento.
Enlarge

Carolina, o repórter Audálio Dantas e a atriz Ruth de Souza, que interpretou a escritora no teatro | Crédito: Fotógrafo não identificado/Coleção Ruth de Souza
De volta à redação da Folha da Noite, onde trabalhava, Audálio colocou sobre a mesa do editor Hideo Onaga seis dos cadernos de Carolina e, sob o olhar desconfiado do chefe, sentenciou: “Pronto, a reportagem tá aqui”. Ao ler os manuscritos, o editor concordou que ninguém poderia descrever a vida na favela melhor do que aqueles textos e ainda comentou: “Isso dá um livro”.
...Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso: faz de conta que estou sonhando. Carolina Maria de Jesus
Trechos do diário de Carolina foram apresentados ao público em uma reportagem de página inteira do jornal, em 9 de maio de 1958: “O drama da favela escrito por uma favelada”. No ano seguinte, Audálio voltou a escrever sobre Carolina, agora numa reportagem da revista O Cruzeiro, a publicação mais lida do Brasil não só naquela época, mas em toda a história. A repercussão dessa vez foi enorme e levou a um convite da editora Francisco Alves, uma das mais importantes da época, para transformar o diário em livro.
Audálio passou um ano editando trechos dos manuscritos e adequando os textos à norma culta, trabalho que resultou em Quarto de despejo, publicado em agosto de 1960. O nome vinha de uma definição dada por Carolina para o local ocupado pela favela na ordem das coisas: “Quando estou na cidade tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, almofadas de sitim. E quando estou na favela tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo”.
Enlarge

Manuscrito do livro Quarto de Despejo | Crédito: Acervo Biblioteca Nacional.
E quando estou na favela tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Carolina Maria de Jesus
Foi esse o único momento que Vera Eunice lembra de ter visto sua mãe feliz: ao pegar em mãos o seu livro publicado e ler em voz alta o título e o nome da autora. “Ela teve esse momento feliz. Mas eu sempre digo que a minha mãe nunca foi feliz. Se você for olhar a vida dela desde que ela nasceu, minha mãe não teve felicidade”, lamenta.
O livro trazia um retrato cru da vida em um dos locais mais pobres de uma metrópole brasileira como ninguém ainda tinha visto naqueles tempos. Não era a miséria festiva de tantas letras de música, nem a pobreza romantizada dos heroicos meninos de rua pré-revolucionários de Jorge Amado. O sofrimento embrutecedor do cotidiano paulistano retratado nos diários guardava mais semelhança, isso sim, com a tradição dos livros sobre os sertões nordestinos. “Guardadas as devidas proporções, Quarto de despejo foi um Os Sertões urbano: desmentiu idealizações arraigadas. Adeus favela querida, pertinho do céu”, compara o historiador Joel Rufino dos Santos, ressaltando uma diferença importante em relação a todos os demais: acontecimento raro na literatura brasileira, o livro de Carolina trazia uma visão de dentro, escrita por uma pessoa que vivia no corpo e na mente a realidade da pobreza que descrevia.
Enlarge

Carolina deixa sua assinatura em noite de autógrafos do Quarto de despejo | Crédito: Correio da Manhã/Arquivo Nacional
E que fazia isso num estilo próprio, misturando expressões da linguagem oral de Minas Gerais e São Paulo com termos mais raros, de origem literária, como “astro rei”, “nívea” e “abluir” — os quais despertaram tanta perplexidade no crítico literário Wilson Martins, por virem de uma escritora negra com pouca educação formal, que ele por duas vezes acusou Quarto de despejo de ser uma falsificação criada por Audálio Dantas.
A rotina contada nos diários é massacrante e repetitiva. Carolina acorda de madrugada para buscar água na única torneira que servia à favela e depois passa o dia catando e revendendo papéis velhos e sucata, em busca de dinheiro suficiente apenas para comprar a comida daquele dia, em meio às queixas constantes dos três filhos. Em cada página, a presença permanente da fome, que muda a feição do mundo, deixando “o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo”. Uma fome que, como nota a escritora Conceição Evaristo, é mais do que física, mas “metáfora do vazio, da dor, do inexplicável, da vacuidade existencial”.
Morte e resgate
“15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos generos alimenticios nos impede a realização de nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar.”
A criança que usava sapatinhos resgatados pela mãe do lixo, na abertura de Quarto de despejo, hoje é uma professora aposentada de 69 anos. Na noite de lançamento do prêmio Carolina Maria de Jesus da CMSP, em que foi homenageada com um voto de júbilo, usava um vestido assinado pela estilista Isaac Silva, em que estampas de flores em preto e branco dividiam espaço com a inscrição VIVA CAROLINA.
O vestido, explica Vera, é parte de uma coleção da estilista inspirada na obra de Carolina. Mulher trans e negra nascida no interior da Bahia, vítima constante do preconceito, Isaac Silva contou a Vera que leu Quarto de despejo na adolescência e encontrou ali uma referência de resistência e força para seguir em frente. Histórias assim a filha de Carolina ouve o tempo todo. “Muitas pessoas pegam minha mãe como exemplo para alcançar um sonho que às vezes acham que é impossível”, afirma. Ela relata ter ficado muito satisfeita com a premiação da CMSP: “As homenagens são muito bem-vindas, especialmente quando vêm das mulheres”.
Enlarge

Vera Eunice, filha de Carolina: “Minha mãe escrevia de tudo e lindo” | Crédito: Gute Garbelotto / CMSP
“Minha vida, hoje, é propagar a memória da minha mãe”, conta Vera. Como parte dessa missão, coordena, junto com a escritora Conceição Evaristo, a equipe que tem reeditado a obra de Carolina, dessa vez buscando respeitar o texto original usado por ela em seus manuscritos, sem os cortes nem as tentativas de adequação à norma culta feitos por Audálio Dantas e outros editores. Segundo Conceição Evaristo, embora “o registro diferenciado da língua portuguesa por Carolina Maria de Jesus” tenha sido “entendido e julgado como um texto mal escrito, dissonante da linguagem permitida” e por isso passado por tantas alterações pelos editores do seu tempo, uma leitura cuidadosa revela “um sujeito de criação consciente de que escrever é um exercício de linguagem, motivo pelo qual a autora se empenha em fazer a escolha das palavras com tanto afinco”, escrevendo em “pretuguês”, o português com influência africana que se fala no Brasil, na definição da feminista negra Lélia Gonzalez.
As interferências de Audálio Dantas na obra de Carolina foram um dos pontos de tensão dentro da complicada relação que os dois tiveram, marcada por muita amizade, mas também muitos conflitos — embora Audálio, um dos maiores repórteres do Brasil, admirasse Carolina e considerasse a reportagem que escreveu sobre ela a mais importante de toda a sua carreira. Foi por sugestão do jornalista que Carolina voltou a escrever um diário, embora ela tivesse mais vontade de publicar outros gêneros literários. “Ele devia ter tido um olhar não só para o diário, mas para os romances, poemas, peças teatrais, provérbios, quadrinhas… Minha mãe escrevia de tudo e lindo”, lamenta Vera.
O fato é que o Brasil da época não parecia interessado em acolher Carolina fora da personagem da “escritora favelada”. Com os rendimentos do primeiro livro, ela conseguiu se mudar para um imóvel em Santana, na zona norte de São Paulo, experiência narrada no diário que deu origem ao seu segundo livro, Casa de alvenaria, que chamou pouca atenção. As obras seguintes de Carolina, o romance Pedaços da fome e a coletânea Provérbios, publicados em 1963, ela bancou do próprio bolso. Os livros foram ignorados e, embora Carolina continuasse a escrever, não conseguiria publicar mais nada até o final da vida.
Dentro de uma sociedade desigual todo mundo é desgraçado. Carolina Maria de Jesus
Para piorar, a saída do quarto de despejo se mostrou mais difícil do que poderia imaginar, porque passou a sofrer ainda mais com o racismo. “Quando ela foi para a casa de alvenaria, que era o sonho da sala de visitas, não foi bem recebida, por causa principalmente da cor”, conta Vera.
Foi quando Carolina mudou-se com os três filhos para um sítio em Parelheiros, no extremo sul. A essa altura, os rendimentos do livro já tinham minguado. Vivendo do que plantava e criava, a família voltou a passar fome. Era uma fome diferente do que tinham vivido na favela, mas ainda assim fome. “Nós tínhamos, por exemplo, o feijão que ela plantava, mas não tinha o arroz. Tinha abóbora, mas não tinha sal, não tinha óleo. Ela gostava de café, mas não tinha”, relembra Vera Eunice.
O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. Carolina Maria de Jesus
Foi nessa situação de volta ao quarto de despejo que Carolina morreu, em 1977, durante uma crise de asma. Uns poucos amigos e vizinhos pagaram seu enterro. As únicas flores do caixão eram as que ela própria havia plantado. Numa carta que deixou para a filha, pediu que a seu túmulo não levassem flores, mas livros.
-
Estátua em Parelheiros, bairro onde Carolina viveu seus últimos anos | Crédito: Beatriz de Oliveira/Nós Mulheres da Periferia

-
Obra de Flávio Cerqueira mostra Carolina criança na exposição Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os Brasileiros, do Instituto Moreira Salles | Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

-
Obra da artista Criola homenageia Carolina na Rua da Consolação | Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Quase ignorada em sua morte, Carolina foi sendo resgatada nos anos seguintes. Hoje, Quarto de despejo é leitura obrigatória em escolas e vestibulares, e as livrarias a cada ano recebem reedições e obras inéditas da autora. Na cidade de Sacramento, o tempo vingou Carolina e sua mãe: o antigo prédio onde ambas foram torturadas abriga hoje um arquivo público destinado à preservação do acervo da escritora, incluindo 37 cadernos de manuscritos doados por Vera Eunice. Em 2021, a catadora de papel que só teve dois anos de estudo recebeu o título de doutora honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, no ano passado, além do prêmio da CMSP, Carolina ganhou uma estátua, instalada em Parelheiros e esculpida por Néia Ferreira, que mostra a escritora com um lápis na mão e os olhos no céu, como parte de um projeto da Secretaria Municipal da Cultura para ampliar a diversidade racial dos monumentos paulistanos, dominados por homenagens a homens brancos.
Sobre sua trajetória, escreveu o biógrafo Tom Farias: “Da favela do Canindé para o mundo, da falta de pão e comida à fartura da carne e da dispensa cheia, Carolina Maria de Jesus viveu os altos e baixos da sociedade do seu tempo, mas como principal protagonista, sofrendo as ações de um tempo que, felizmente, ainda não a esqueceu”.
Saiba mais
Livros de Carolina Maria de Jesus
Quarto de despejo: diário de uma favelada. Edição comemorativa. Ática, 2021
Casa de alvenaria – Volume 1: Osasco. Companhia das Letras, 2021
Casa de alvenaria – Volume 2: Santana. Companhia das Letras, 2021
Diário de Bitita. Sesi-SP, 2014
Outros livros
BARBOSA, Sirlene e PINHEIRO, João. Carolina. Veneta, 2016
DANTAS, Audálio Ferreira. Tempo de reportagem. Leya, 2012
FARIAS, Tom. Carolina: Uma biografia. Malê, 2019
SANTOS, Joel Rufino dos. Carolina Maria de Jesus: uma escritora improvável. Garamond, 2011
Filmes
Das nuvens para baixo. Dirigido por Marco Antonio Gonçalves e Eliska Altmann, 2015
Carolina. Dirigido por Jeferson De, 2003
